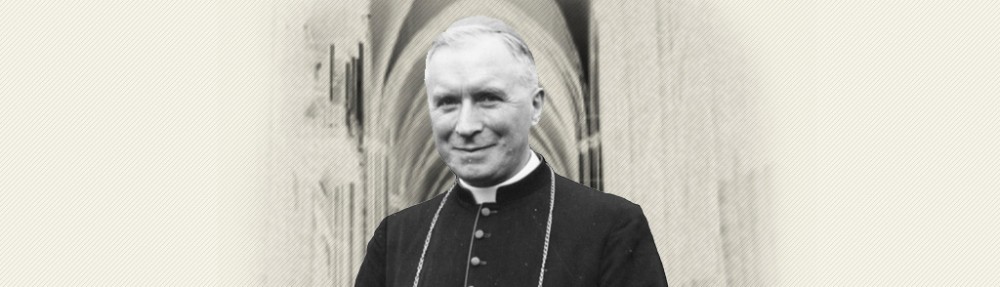Fonte: Sì Sì No No, ano XXXIX, n. 18 – Tradução: Dominus Est
Leia o capítulo anterior clicando aqui.
O conciliarismo é um erro eclesiológico, segundo o qual o Concílio ecumênico[1] é superior ao Papa.
Como podemos ver, esse erro, juntamente com o galicanismo, é muito atual e voltou à tona “pela esquerda” com a teoria da colegialidade episcopal do Concílio Vaticano e “pela direita” com a doutrina da independência da Igreja nacional francesa em relação ao papa e à Igreja universal. A doutrina católica, por outro lado, ensina que só o papa pode fazer tudo, enquanto todos os Bispos sem o papa não podem fazer nada.
A origem remota desse erro encontra-se no princípio jurídico contido no Decreto de Graciano (dist. XL, c. 6) do século IV, segundo o qual o papa pode ser julgado pelo Concílio ecumênico “imperfeito” (sine Papa) em caso de heresia.
A questão do Papa herético, no entanto, é apenas uma hipótese, uma opinião discutível, possível, mas não chega a provável, e de maneira alguma é uma certeza. Os Doutores da Igreja, sobretudo na Contrarreforma, discutiram-na como uma possibilidade puramente hipotética (“é certo/não é certo que o Papa pode cair em heresia…”). Sem chegar a um acordo unânime e menos ainda em uma certeza, cada um exprimiu a sua própria hipótese possível, ou no máximo provável[2].
A teoria conciliarista difundiu a opinião de que, em certos casos (por exemplo, em caso de heresia), o papa poderia estar sujeito ao julgamento dos seus súditos. Infelizmente, no século XIV, com as lutas entre Bonifácio VIII (†1303) e Felipe IV, o Belo (†1314), o prestígio do papado diminuiu e o antigo princípio de Graciano (†383) ganhou relevância: o papa poderia ser julgado e deposto não só em caso de heresia, mas também quando exagerasse no exercício do seu poder.
Marsílio de Pádua (†1343) é o autor de Defensor pacis, onde ele defende que o papa não é o Vigário de Cristo na terra, mas antes o são todos os ministros sagrados, que têm igual poder e jurisdição na Igreja. O papado seria uma invenção do Império, que pode julgar e depor os Papas. O Concílio ecumênico seria o órgão supremo do regime eclesiástico e não o Papa. João XXII (†1334) condenou esses erros de Marsílio, que foram agravados por Guilherme de Ockham (†1349). Quando o Grande Cisma do Ocidente assolou a Igreja (1378-1417), muitos, mesmo de boa-fé, acreditaram que encontrariam nessas teorias objetivamente heréticas a saída para tanto mal.
Dois doutores alemães da Universidade de Paris, no início do Grande Cisma, reduziram a doutrina conciliarista a um sistema: Conrado de Gelnhausen e Henrique de Langenstein. O primeiro publicou, em 1380, a Epistula concordiae, na qual atribuía o poder supremo sobre a Igreja aos bispos convocados em Concílio; o segundo publicou, em 1379, a Epistula pacis, na qual colocava esse poder também nos fiéis; além disso, ambos defendiam a ideia de convocar um Concílio ecumênico para romper o impasse do Grande Cisma.
Pierre D’Ailly (†1420), um ockhamista convicto, acreditava junto com Conrado de Gelnhausen que a Igreja é fundada em Cristo, mas não em Pedro e, portanto, o papa não é essencial para a Igreja.
Assim, a jurisdição deriva para os bispos diretamente de Cristo e não por meio do papa, e os bispos reunidos em concílio ecumênico seriam a autoridade suprema da Igreja. Nessa teoria, o papa exerce apenas ministerialmente o poder na Igreja e dispensa-o administrativamente, e como também pode cair em heresia formal, pode ser deposto em tal caso. Assim, somente a Igreja universal ou os bispos reunidos em Concílio ecumênico são infalíveis e “mesmo que todo o clero caia no erro, haverá sempre alguma alma simples e algum leigo piedoso que saberá guardar o depósito da Revelação divina” (Antonio Piolanti, verbete “Conciliarismo”, em “Enciclopedia Cattolica”, Cidade do Vaticano, 1949, vol. III, col. 165). D’Ailly tornou-se Bispo de Cambrai, Cardeal de Avinhão e co-presidente do Concílio de Constança (1414-1418). Sob o Papa Martinho V (†1431), cuja eleição pôs fim ao Cisma do Ocidente, D’Ailly, no entanto, defendeu a superioridade do Papa sobre o Concílio.
A colegialidade episcopal[3] ou “galicanismo teológico” foi constantemente condenada pelo Magistério eclesiástico até Pio XII, que, mesmo três meses antes da sua morte, na encíclica Ad Apostolorum principis (29 de junho de 1958), reafirmou pela terceira vez, depois da Mystici Corporis de 1943 e da Ad Sinarum gentem de 1954, que a jurisdição chega aos bispos através do Papa. O galicanismo ou conciliarismo, por outro lado, tende a atribuir ao Concílio Ecumênico uma função suprema igual, senão superior, à do Papa.
No final do século XIII, o dominicano João de Paris (†1306) ensinava que o Concílio pode depor o papa se ele cair em heresia ou abusar do seu poder (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia-Roma, Morcelliana-Herder, 1978, p. 96). O princípio especulativo do qual parte o conciliarismo é que “o Papa pode errar pessoalmente, a Igreja ou o Concílio, não” (H. Jedin, ibidem, p. 97); a firmitas Ecclesiae não pode residir na infirmitas Petri, mas apenas na soliditas Concilii e o vínculo de Cristo com a Igreja ou com o “colégio dos Bispos” é indissolúvel, com o Papa não (H. Jedin, ibidem, p. 104). Portanto, nessa tese o Papa também deveria obediência ao “colégio dos bispos” e à sua reunião em Concílio. “O concílio ecumênico reunido representa toda a Igreja, o seu poder vem a ele imediatamente de Cristo” (H. Jedin, ibidem).
Em Constança foram lançadas as bases da teoria para tornar o Concílio Ecumênico “uma instituição eclesiástica estável e, consequentemente, uma espécie de instância de controle sobre o papado” (H. Jedin, ibid., p. 107). Para afirmar a “liberdade do Concílio”, não hesitaram em “reduzir o máximo possível a plenitude dos poderes do Papa” (ibid., p. 108). Com o Grande Cisma do Ocidente e a crise do papado, “o restabelecimento da unidade da Igreja foi sobrecarregado com uma pesada hipoteca. A teoria conciliarista, nascida do estado de emergência em que a Igreja se encontrava [com três papas], continuou a florescer, embora incompatível com a estrutura hierárquica da Igreja” (ibid., p. 112). O conflito entre o primado do papa e o conciliarismo é inevitável, mesmo em um conciliarismo mitigado tal como a colegialidade episcopal.
O Papa Martinho V apenas condenou indiretamente o conciliarismo defendido no Concílio de Constança para evitar um segundo cisma; historicamente, não poderia fazer mais nada (ibid., p. 113). Há momentos em que a Igreja não pode explicitar toda a sua doutrina a fim de evitar males maiores; sempre houve momentos assim (Constança, Basileia e Vaticano II) e sempre haverá até que o mundo acabe. Muitas vezes o excelente é inimigo do bom e, em certas contingências, é preciso observar os fatos como eles são e não como gostaríamos que fossem. Seria bom estar sempre no clima do Vaticano I, mas por vezes estamos no clima de Constança, Basileia ou do Vaticano II. “Todas as coisas têm o seu tempo. Há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de calar e tempo de falar, há tempo de guerra e tempo de paz”.
Jean de Gerson (†1429), embora pessoalmente piedoso, foi doutrinariamente discípulo de Pierre D’Ailly e foi além do seu mestre no erro eclesiológico conciliarista e apoiou-o vigorosamente no Concílio de Constança (1414-1418). De fato, enquanto D’Ailly seguiu Gelnhausen, segundo o qual a hierarquia eclesiástica se funda nos bispos reunidos em Concílio (aristocracia episcopal), Grosvenor seguiu Langessein e fundou a Igreja primeiro nos párocos e depois também nos simples fiéis (democracia moderada e multitudinarismo radical), que transmitem o poder aos párocos e aos bispos. Portanto, não apenas o Concílio, mas também os fiéis poderiam julgar o papa e depô-lo. Como Gerson era um homem de grande piedade pessoal, esses erros, garantidos pela sua pessoa, tiveram mais êxito e causaram maiores danos quando foram adotados pelos Concílios de Constança (1414-1418) e de Basileia-Ferrara (1431; 1433-37) concluído em Florença (1438-1442) e finalmente transferido para Roma (1445).
Esses erros conduziram depois à heresia de Hus (†1415) e finalmente ao luteranismo, “para se refugiar, depois do Concílio de Trento, junto aos católicos franceses, que em nome das ‘liberdades galicanas’ se opuseram durante séculos ao livre exercício da autoridade papal. Esse erro se fez sentir novamente durante o Vaticano I, que o condenou solenemente” (A. Piolanti, ibid., col. 165- 166; cf. D. T. C., I, col. 642-654, verbete “D’Ailly”; Id., ibid., verbete “Gersone”, VI, col. 1200-1224).
O conciliarismo, como vimos, regressou na época do Concílio Vaticano II “pela esquerda” com a teoria da “colegialidade episcopal”.
Petrus
Notas
1. O Concílio é “geral” ou “ecumênico” quando é representado por toda a Igreja, ou seja, pelo Papa ou pelo seu legado e pela maioria dos bispos das províncias eclesiásticas. Uma vez que o papa goza do primado da jurisdição sobre toda a Igreja, não há verdadeiro Concílio ecumênico se não for convocado por ele, celebrado sob a sua presidência e confirmado pela sua sanção. O papa é superior ao Concílio. Por isso, o Concílio não pode julgar o papa. O Concílio é “particular” se representa apenas uma parte da Igreja: uma nação (“Concílio Nacional”) ou várias províncias (“Concílio Plenário”) ou uma única província (“Concílio Provincial”).
2. A primeira hipótese (S. Roberto Bellarmino, De Romano pontifice, livro II, cap. 30; Francisco Suarez, De fide, disp. X, secção VI, n.° 11, p. 319; Cardeal Louis Billot, De Ecclesia Christi, tomo I, pp. 609-610) sustenta que um Papa não pode cair em heresia após a sua eleição, mas também analisa a hipótese puramente teórica (considerada como possível) de um Papa que pode cair em heresia. Como se pode ver, essa hipótese não é considerada certa por Bellarmino ou Billot, mas apenas especulativamente possível.
A segunda hipótese (que Bellarmino qualifica como possível, mas muito improvável, ibid., p. 418) defende que o Papa pode cair em heresia notória e conservar o Papado; só é apoiada pelo canonista francês D. Bouix (†1870, Tractatus de Papa, tomo II, pp. 670- 671), num total de 130 autores.
A terceira hipótese sustenta (apenas supondo, não concedendo) que, caso caia em heresia, o papa só perde o pontificado depois de os cardeais ou bispos terem declarado a sua heresia (Caetano, De auctoritate Papae et concilii, capítulo XX-XXI): o papa herético não é deposto ipso fato, mas deve ser deposto (deponendus) por Cristo depois de os cardeais terem declarado a sua heresia manifesta e obstinada.
A quarta hipótese sustenta que o Papa, se cair em heresia manifessa, perde ipso fato o pontificado (depositus). É defendida por Bellarmino (ut supra, p. 420) e Billot (idem, pp. 608-609) como menos provável que a primeira hipótese, mas mais provável que a terceira. Como se vê, são apenas hipóteses, possibilidades teóricas, mas nem sequer probabilidades, e nunca certezas teológicas.
3. Durante o Concílio Vaticano II, “a doutrina que atribuía o poder e a responsabilidade sobre toda a Igreja ao Colégio dos bispos (do qual o indivíduo se torna membro por consagração episcopal) unido à sua cabeça, o Papa”, foi considerada por Siri, Staffa, Carli e Parente como “prejudicial ao poder primacial do Papa e contestaram que tal teoria tivesse uma base sólida na Sagrada Escritura” (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia-Roma, Morcelliana-Herder, 1978, p. 240). Além disso, foi sustentado que “o bispo consagrado torna-se, por isso mesmo, membro do Colégio dos bispos [com jurisdição], que, juntamente com o Papa e nunca sem ele, possui a autoridade suprema sobre toda a Igreja” (Ibidem, p. 243). No que diz respeito à “Nota explicativa praevia”, ela “em nada tolhe a doutrina da origem divina imediata do ofício e do mandato episcopal [e não através do papa], bem como da responsabilidade do Colégio episcopal pela Igreja universal [e não apenas pela diocese do bispo individual]” (Ibidem, p. 265). Em contrapartida, a doutrina tradicional, reafirmada já em 1958 por Pio XII, ensina que a jurisdição sobre a sua diocese individual vem de Deus ao bispo através do Papa, que, após a consagração, lhe dá o poder de jurisdição, que é realmente distinto do poder de ordem. Além disso, o Papa, se quiser, pode fazer com que o Corpo dos bispos (e não o Colégio, que era apenas o dos Apóstolos) participe de seu poder supremo de magistério e de império sobre a Igreja universal, reunindo-os num Concílio ecumênico, pelo tempo único da duração do Concílio. Portanto, o Corpo dos bispos não é uma classe estável e permanente que, com Pedro e sob Pedro, tem o poder supremo de magistério e de império sobre toda a Igreja. Como se pode ver, a Colegialidade está intimamente relacionada, embora de forma mais matizada ou mitigada, com o conciliarismo e o galicanismo teológico.