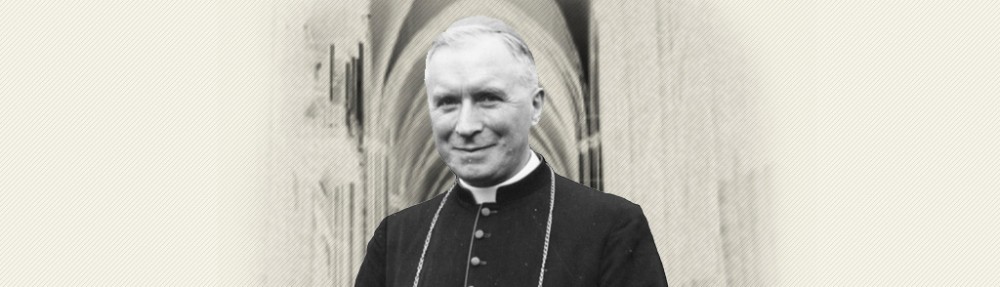Fonte: La Porte Latine – Tradução: Dominus Est
“A questão da Igreja e de sua constituição, as novas abordagens e perspectivas que o Concílio Vaticano II traz sobre a Igreja estão no centro de um debate teológico que nos leva a questionar a ortodoxia de vários de seus textos. Não se pode deixar de estudá-los se se quer compreender as questões de um debate cinquentenário, que não deve se perder nas falsas pistas de uma correta ou má recepção dos textos, que, na verdade, estariam em conformidade com a doutrina da Igreja Católica, de uma correta ou má interpretação ou hermenêutica desses mesmos textos, moldadas conforme as intenções de ruptura, que iriam além daquelas do magistério conciliar. O pressuposto de que os textos são necessariamente isentos de erros esterilizaria qualquer exame teológico sério.”
Assim, a novidade que a expressão “subsistit in” – que associa a Igreja de Cristo subsistindo na Igreja Católica – constitui para todos pode ser qualificada como estratégica. Ela é estratégica do ponto de vista do novo ecumenismo implementado e propagado pelos Papas conciliares e pós-conciliares.
Recordemos que o ecumenismo moderno busca em todas as religiões cristãs o menor denominador comum, a fim de recuperar a unidade perdida. Isso sempre foi condenado, até 1949, por Pio XII [1]. O ecumenismo, no sentido católico, busca renegar as comunidades cristãs dissidentes para integrar a única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, única arca e fonte de salvação. Quanto ao diálogo inter-religioso, nascido do movimento e extensão do ecumenismo moderno, busca, por meio do debate aberto entre representantes de religiões não cristãs, promover a paz e o intercâmbio sobre os valores éticos, excluindo qualquer proselitismo [2].
Foi o próprio Cardeal Ratzinger quem o admitiu, numa conferência sobre a constituição Lumen Gentium proferida em fevereiro de 2000, onde esclareceu o significado da expressão “subsistit in”: “Todo o problema ecumênico se esconde na diferença entre subsistit e est”[3]. Quatro anos depois, o Cardeal Kasper, Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, também insistiu, durante uma conferência proferida por ocasião do 40º aniversário do decreto Unitatis redintegratio, no aporte essencial da expressão: “Durante o Concílio, o “subsistit in” substituiu o anterior “est”. Ele contém in nuce todo o problema ecumênico” [4].
Com efeito, para justificar o novo ecumenismo que, em consequência da dinâmica protestante nascida no século XIX, pretende recuperar a unidade da Igreja de Cristo supostamente perdida pelas sucessivas divisões que pontuaram sua história, sem, por isso apelar a um retorno à Igreja Católica (como preconizava a doutrina católica bimilenar), não havia outra solução senão essa sutil distinção, que oferece uma legitimidade no domínio da salvação às diferentes comunidades cristãs, ainda que separadas da Igreja Católica. O surgimento de uma distinção entre a Igreja de Cristo e a Igreja Católica, à qual é acrescentado o uso recorrente de “elementos de salvação”, que estariam disseminados nessas diversas confissões cristãs, embora integralmente presentes na Igreja Católica, facilitou tornar complementares e respeitáveis todas as comunidades religiosas que se dizem cristãs, e considerar, entre elas, um reconhecimento recíproco, uma convergência de unidade, que chamarão de “comunhão”, e que pode dispensar tanto a conversão por abjuração dos erros quanto toda forma de proselitismo.
Examinaremos, portanto, o significado dessa expressão propositalmente escolhida, e veremos quais aberturas eclesiológicas ela permite. Ao mesmo tempo, seremos necessariamente levados a comparar essa teoria com a doutrina católica anterior, e julgar a continuidade ou não da nova expressão em relação à teologia tradicional da Igreja.
Além disso, se a expressão for entendida à luz do ecumenismo, também nos perguntaremos, ao escrutinar os textos do Concílio, se ela também não amplia as perspectivas de salvação em relação às religiões não cristãs. De fato, a preocupação dos redatores dos textos conciliares também se voltou às outras religiões (Declaração Nostra Ætate), e as décadas que se seguiram ao Concílio mostraram uma forte mobilização por um diálogo inter-religioso e encontros inspirados pelo Concílio. Recordamos que o Papa João Paulo II teve o cuidado de justificar o primeiro encontro inter-religioso em Assis, em outubro de 1986, durante um discurso à Cúria em 22 de dezembro de 1986, apoiando-se justamente na eclesiologia e nos textos do Concílio [5].
Se a busca por uma unidade do gênero humano motiva a renovação eclesiológica do Vaticano II, devemos também nos perguntar por que o fracasso dessa teoria se impõe dia após dia, apesar das renúncias cada vez maiores, de parte da Igreja Católica, na afirmação do caráter exclusivo da Revelação e do ensinamento de Cristo, da religião católica, da Igreja e de seus meios de salvação.
A novidade do subsistit in
O uso deste verbo “subsistir”, cujo significado não é óbvio em seu contexto, pode surpreender em um texto de um concílio que se pretendia pastoral, ou seja, que tornaria a teologia mais acessível em sua expressão.
O texto
A famosa expressão é retirada da constituição dogmática Lumen Gentium, que trata da constituição da Igreja. No parágrafo 8, lemos:
Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste [subsistit in] na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos Bispos em união com ele, embora, fora da sua comunidade, se encontrem muitos elementos de santificação e de verdade, os quais, por serem dons pertencentes à Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica.
Lumen gentium, n.º 8.
Sua origem
Antes de explicar o significado desse parágrafo, esclareçamos a origem dessa expressão. Se o Papa Bento XVI, em várias ocasiões [6], defendeu a ortodoxia da passagem, foi porque estava bem posicionado para conhecer a sua origem. O pastor Wilhelm Schmidt, observador no concílio, reconheceu ter transmitido a ideia do “subsistit in” ao então conselheiro teológico do Cardeal Frings: Joseph Ratzinger, que a transmitiu ao cardeal [7]. É evidente que o redator principal do texto, Gérard Philips, autor posterior de uma obra de teologia que explica as contribuições do Concílio Vaticano II em matéria de eclesiologia [8], utilizou o conceito.
É legitimamente surpreendente que uma fórmula tão importante tenha sido emprestada de pensadores protestantes que não são conhecidos por defender a teologia da Igreja. Seja ela obra do pastor Schmidt ou tenha sido ele apenas um mensageiro, compreende-se melhor que um concílio ecumênico obcecado pelo ecumenismo introduza na doutrina da Igreja novidades, no mínimo, duvidosas.
O contexto
Após ter dado uma nova definição da Igreja (a Igreja é um sacramento, Lumen gentium §1), o texto da Constituição sobre a Igreja descreve as origens da Igreja desejada por Deus, falando da Redenção operada por Cristo e a ação do Espírito Santo atuante na vida da Igreja, sem que a fundação dessa última seja claramente definida como estabelecida sobre o apóstolo Pedro e como sociedade depositária de todos os meios de salvação destinados aos fiéis unidos pelo vínculo hierárquico, a fé e os sacramentos.
A hierarquia mencionada incidentalmente e colocada no mesmo nível dos carismas é fruto de um dom do Espírito Santo, e não parece ser obra de Cristo em sua humanidade, confiando sua autoridade de governo ao primeiro Papa: “A Igreja, que Ele conduz à verdade total (cfr. Jo. 16,13) e unifica na comunhão e no ministério, enriquece-a Ele e guia-a com diversos dons hierárquicos e carismáticos e adorna-a com os seus frutos” (Lumen Gentium §4). Esta ideia será encontrada novamente mais tarde (Lumen Gentium, capítulo 2) quando será trado da questão de definir a Igreja como o Povo de Deus, do qual nascerá a hierarquia da Igreja (Lumen Gentium, capítulo 3). A Igreja não é vista primeiramente como uma sociedade fundada sobre a ordem hierárquica constituída para alcançar o bem comum sobrenatural.
Os parágrafos 2, 3 e 4 da Lumen Gentium podem ser resumidos da seguinte forma:
A Igreja é a obra comum das três Pessoas divinas. O Pai predestinou todos os homens na Igreja e por meio dela. Pelo exemplo de sua obediência e pela revelação de seu mistério, Cristo instituiu um reino, isto é, uma comunhão mística. O Espírito Santo continua a suscitar essa comunhão e acrescenta-lhe o dom da hierarquia visível, que existe para significar o mistério dessa comunhão.
Pe. Jean-Michel Gleize, Sessão de Eclesiologia, documento datilografado, 2010, p. 18.
Após ter evocado as imagens da Igreja encontradas na Sagrada Escritura e a designação de Corpo Místico de Cristo, com uma ênfase renovada na fusão da realidade sobrenatural e da dimensão social e visível da Igreja, o texto aborda, no parágrafo 8, a distinção entre a Igreja como sociedade visível e o Corpo Místico, insistindo sobre a amálgama que ambas constituem. Baseando-se na analogia do mistério do Verbo encarnado, cuja natureza humana está a serviço do Verbo, assim como a estrutura social da Igreja está a serviço do Espírito de Cristo, encontramos a afirmação, por meio dessa distinção entre o instrumento e aquele que o utiliza, de que a estrutura hierárquica é o instrumento da comunidade. Compreende-se, portanto, que a comunidade mística precede a estrutura hierárquica.
O significado da expressão
É aqui que encontramos a passagem que contém a expressão “subsistit in”:
Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste [subsistit in] na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos Bispos em união com ele, embora, fora da sua comunidade, se encontrem muitos elementos de santificação e de verdade, os quais, por serem dons pertencentes à Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica.
O sentido desta passagem é esclarecido por tudo o que a precede. A expressão afirma a distinção entre, de um lado, a comunidade mística à qual pertencem todos aqueles que vivem sob a influência da graça e, do outro, a estrutura social e visível da Igreja Católica, cujos membros estão unidos sob o tríplice vínculo da unidade de fé, culto e governo. E mesmo que nos digam que as duas nunca se separaram na realidade, que a Igreja Católica continua sendo a Igreja de Cristo, uma não é inteiramente idêntica à outra. Há uma ordem entre as duas. A comunidade da ordem mística precede a estrutura social. Além disso, afirma-se claramente que a comunidade mística também vive fora da estrutura social por meio de “muitos elementos de santificação e verdade”. Observa-se uma diferença quantitativa, na medida em que a Igreja de Cristo se encontra, subsiste, em estado perfeito e máximo na Igreja Católica, enquanto se encontra em estado de elementos nas outras comunidades.
Os defensores autorizados do texto deram uma interpretação precisa da expressão. O Cardeal Ratzinger, retomando este trecho da Lumen gentium, afirmou na declaração Dominus Jesus (2000):
“Existe, portanto, uma única Igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica, governada pelo Sucessor de Pedro e pelos Bispos em comunhão com ele. [9] As Igrejas que, embora não estando em perfeita comunhão com a Igreja Católica, se mantêm unidas a esta por vínculos estreitíssimos, como são a sucessão apostólica e uma válida Eucaristia, são verdadeiras Igrejas particulares. [10] Por isso, também nestas Igrejas está presente e actua a Igreja de Cristo, embora lhes falte a plena comunhão com a Igreja católica, enquanto não aceitam a doutrina católica do Primado que, por vontade de Deus, o Bispo de Roma objectivamente tem e exerce sobre toda a Igreja. [11]”
Logo, há, presença e ação da Igreja de Cristo onde não há necessariamente a estrutura hierárquica visível fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais recentemente, a Resposta da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, de 29 de junho de 2007, forneceu precisões e esclarecimentos sobre o significado da expressão, em sua segunda resposta:
“No número 8 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, ‘subsistir’ significa a continuidade histórica perpétua e a permanência de todos os elementos instituídos por Cristo na Igreja Católica [12], na qual a Igreja de Cristo se encontra concretamente nesta terra. De acordo com a doutrina católica, se é correto afirmar que a Igreja de Cristo está presente e atua nas Igrejas e Comunidades eclesiais que ainda não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, graças aos elementos de santificação e verdade que nelas se encontram [13], o verbo “subsistir” só pode ser atribuído exclusivamente à Igreja Católica, uma vez que se refere à nota de unidade professada nos símbolos da fé (“Creio na Igreja, uma”); e essa Igreja uma “subsiste” na Igreja Católica [14]”.
Subsistir insiste, segundo a explicação dada pelo Cardeal Ratzinger ou pela Congregação para a Doutrina da Fé em 2007, no caráter duradouro da existência da Igreja, apesar das vicissitudes dos séculos, e afirma a plenitude dos meios de salvação encontrados na Igreja Católica.
O Cardeal Kasper, na conferência já citada, explica:
O Concílio conseguiu dar um passo importante graças ao “subsistit in”. Ele quis fazer justiça ao fato de que, fora da Igreja Católica, não existem apenas indivíduos cristãos, mas também “elementos da Igreja” (10), e ainda Igrejas e Comunidades eclesiais que, embora não estejam em plena comunhão, pertencem por direito à única Igreja e constituem para seus membros meios de salvação.
Sua nota de rodapé 10 diz:
Este conceito remonta basicamente a João Calvino; mas, enquanto para Calvino o termo se referia aos tristes resquícios da verdadeira Igreja, no debate ecumênico é entendido em um sentido positivo, dinâmico e voltado para o futuro. Aparece pela primeira vez com Yves Congar, como uma afirmação da posição antidonatista de Santo Agostinho (cf. A. Nichols, Yves Congar, Londres 1986, pp. 101-106). Com a Declaração de Toronto, também entrou na linguagem do Conselho Ecumênico de Igrejas.
Em outras palavras, há, de fato, uma distinção real entre a Igreja de Cristo e a Igreja Católica, tal como se pode encontrar entre uma realidade e sua maneira concreta e singular de existir no tempo. De fato, nos dizem, a Igreja de Cristo se manifesta em plenitude na Igreja Católica (isso é o que se chama “subsistir”) e, de forma menos rica, nas outras comunidades religiosas cristãs (essa é uma forma de ser por presença e por ação). O que constitui uma novidade.
E a imposição da nova expressão “subsistit in” visa expressamente o reconhecimento de uma comunhão ecumênica entre todas as comunidades cristãs. O Cardeal Kasper reconhece isso, demonstrando a mudança provocada pela expressão “elementos da Igreja”, que analogamente retoma os “elementos de santificação e de verdade” já mencionados na Lumen gentium §8, com a mesma confusão provocada pela passagem para uma formalidade de ordem quantitativa e, portanto, para uma visão material da unidade da Igreja, e não mais moral:
A ideia fundamental do Concílio Vaticano II, e em particular do Decreto sobre o Ecumenismo, pode ser resumida em uma palavra: communio. O termo é importante para a correta compreensão da questão dos “elementa ecclesiæ”. Essa expressão sugere uma dimensão quantitativa, quase materialista, como se fosse possível quantificar, contar esses elementos, verificar se o seu número está completo.
Cardeal Kasper, ibid.
Esta explicação, que decorre do texto e de seus comentadores autorizados, dificulta a tentativa de justificação feita, aliás, pela Resposta da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé de 29 de junho de 2007, que consiste em provar que o “subistit in” significa o mesmo que “est”. A lógica do texto é de fato difícil de seguir, pois leva a afirmar, acima de tudo, que a razão de ser da expressão é introduzir a ideia de que se encontram elementos de santificação fora das estruturas da Igreja Católica:
Terceira pergunta. Por que usamos a expressão ‘subsiste em’ e não simplesmente o verbo ‘é (ser)’?
Resposta. O uso desta expressão, que indica a plena identidade da Igreja de Cristo com a Igreja Católica, não altera em nada a doutrina sobre a Igreja, mas tem o objetivo de significar mais claramente que, fora de suas estruturas, se encontram “muitos elementos de santificação e de verdade”, “os quais, pertencendo propriamente por dom de Deus à Igreja de Cristo, exigem por si mesmos a unidade católica [15]”.
“Consequentemente, estas Igrejas e Comunidades separadas, embora as consideremos vítimas de deficiências, não estão de modo algum desprovidas de significado e valor no mistério da salvação. O Espírito de Cristo, de fato, não se recusa a utilizá-las como meios de salvação, cujo poder deriva da plenitude da graça e da verdade que foi confiada à Igreja Católica[16]”.
Por fim, tranquilizemo-nos, pois encontramos uma admissão da dificuldade em compreender essa distinção no próprio Bento XVI, durante um colóquio sobre Lumen gentium, em fevereiro de 2000:
A diferença entre subsistit in e est encerra o drama da divisão eclesial. Embora a Igreja seja una e subsista em um único sujeito, existem realidades eclesiais fora desse sujeito: verdadeiras igrejas locais e comunidades eclesiais. Sendo o pecado uma contradição, não se pode, em última análise, resolver plenamente, do ponto de vista lógico, essa diferença entre subsistit e est.
Bento XVI, Colóquio Romano (25 a 27 de fevereiro de 2000).
Consequências doutrinárias
Apesar das repetidas afirmações de que a nova fórmula não pretendia, nem alterou, de fato, a doutrina sobre a Igreja, estamos testemunhando a imposição, independentemente da exegese erudita do significado de “subsistit”, do reconhecimento de elementos objetivos e ativos de salvação nas comunidades dissidentes da Igreja Católica.
E essa novidade serve efetivamente como ponto de partida para o ecumenismo. É por isso que o parágrafo 8 da Lumen Gentium é esclarecido e confirmado no texto conciliar dedicado ao ecumenismo, Unitatis Redintegratio, em seu parágrafo 3, já citado:
Por isso, as Igrejas e Comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. Pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas como de meios de salvação cuja virtude deriva da própria plenitude de graça e verdade confiada à Igreja católica.
Este lugar paralelo da expressão da mesma doutrina acrescenta, por mais que sejam, as comunidades religiosas separadas da Igreja Católica, enquanto estruturas sociais que servem ao Espírito Santo como meio de salvação. O Cardeal Kasper é explícito:
Consequentemente, a questão da salvação dos não católicos não se resolve mais em nível individual, partindo do desejo subjetivo de um indivíduo, como indicado pela Mystici corporis, mas no nível institucional e de forma eclesiológica objetiva.
Cardeal Kasper, ibid.
Embora nunca seja admitido explicitamente, a lógica profunda desses textos é que não é mais necessário pertencer à Igreja Católica para ser salvo, mas simplesmente à Igreja de Cristo, comunhão e corpo místico, que precede a instituição social e hierárquica que é a Igreja Católica. Mantém-se a afirmação de que a Igreja de Cristo se manifesta de maneira perfeita e única na Igreja Católica, mas introduz-se a ideia de que a Igreja de Cristo, como comunhão e fonte de salvação, atua em um âmbito mais amplo do que a Igreja Católica, e que as comunidades dissidentes são verdadeiros instrumentos de salvação utilizados pelo Espírito Santo. Assim, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, mas também se faz presente e atuante nas comunidades separadas.
Tomada independentemente de seu contexto, a passagem da Lumen Gentium poderia parecer simplesmente ambígua. Mas a ambiguidade torna-se mais clara, no sentido de um erro grave, quando lemos as interpretações oficiais e os trechos paralelos. Conclui-se que, por si só, a não pertença à Igreja Católica visível não constitui um obstáculo nem à recepção da graça sacramental nem à pregação da verdade, mas que, pelo contrário, o Espírito Santo age e opera a salvação de Cristo também nesse caso.
Logo, temos aqui a expressão de uma novidade e de uma ruptura. Aquela que existe na natureza da relação entre as confissões não católicas e a Igreja Católica. Como escreve o Pe. Gleize, reformulando a ideia expressa por esta nova teoria, “não se trata da relação entre o nada e o tudo, mas sim da relação entre a parcialidade (com lacunas e deficiências de diferentes níveis) e a plenitude (ou integralidade)”[17].
Ora, trata-se aqui de uma nova definição da Igreja que não está em conformidade com a doutrina católica tradicional.
A doutrina católica
No que se refere ao mistério da Igreja, a doutrina católica sempre afirmou a distinção expressa no mesmo artigo de fé do Credo, entre a Igreja e a comunhão dos santos, que são dois aspectos diferentes do mesmo mistério. É por meio da Igreja Católica — que, como sociedade, é provisória até o fim do mundo — que seus membros terão acesso à comunhão dos santos — que é o fim último onde se realiza definitiva e eternamente a salvação.
Ora, os membros da Igreja são, como tais, aqueles que professam exteriormente a fé e o culto em dependência da autoridade divinamente instituída, e o princípio formal da unidade da Igreja é precisamente a ordem social que decorre deste triplo vínculo. Sem este triplo vínculo, a Igreja deixa de subsistir, deixa de existir.
Pe. Jean-Michel Gleize, A nova eclesiologia na base do ecumenismo, Courrier de Rome, n°339 (529), dezembro de 2010, p. 2.
Com a expressão tradicional “est”, a Igreja era definida como uma ordem, isto é, como uma relação real entre o que depende de um princípio e este próprio princípio. Com a nova expressão do “subsistit in”, a Igreja é definida como uma plenitude, ou seja, como uma soma completa de elementos, como um quebra-cabeça composto pela soma de todas as suas peças. A plenitude é uma noção quantitativa: é uma totalidade material de elementos distintos. Enquanto ordem qualitativa: é uma totalidade formal, que define a sociedade como tal, que é uma multidão ordenada na busca comum de um mesmo bem (o princípio tem razão de causa final, o objetivo procurado), sob a direção da mesma autoridade (o princípio tem razão de causa motriz) [18]. Se o indivíduo não é membro da sociedade, não é ordenado, não se pode tentar alcançar o bem comum, pois não está sob a moção final e motriz da autoridade que, sozinha, a constitui. Aplicado à Igreja, este princípio implica que é pela pertença à Igreja católica, como sociedade que assegura a unidade da fé e do verdadeiro culto prestado a Deus, pelo governo único do chefe escolhido por Jesus Cristo para assegurar visivelmente a sua autoridade, que é um princípio de ordem, que todos os membros se tornam capazes de alcançar o bem comum procurado, ou seja, a felicidade eterna.
E a fé da Igreja sempre se baseou nesta última definição da Igreja, dado que a instituição da Igreja por Jesus Cristo é de fé revelada.
Em outras palavras, afirmar, como fizeram Pio IX, o Concílio Vaticano I, Leão XIII, São Pio X, Pio XI ou Pio XII, que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica e afirmar que a Igreja é aqui na terra uma sociedade, ou seja, a única ordem hierárquica desejada por Cristo como meio para alcançar a salvação, é recordar que Jesus Cristo fundou uma única Igreja à qual confiou todos os seus poderes (autoridade, doutrina, meios de salvação) e que fora desta Igreja não se pode encontrar a salvação.
Mas dizer, como a Lumen gentium, que a Igreja de Cristo é distinta da Igreja Católica e que fora da estrutura social da Igreja Católica existem comunidades que possuem, como comunidades, elementos de verdade e de salvação dos quais o Espírito de Cristo se serve, é afirmar uma concepção latitudinarista da Igreja, tal como a encontramos condenada em particular por Pio IX (Syllabus), Leão XIII (onde?), Pio XI em Mortalium animos, Pio XII em Mystici Corporis (sobre a Igreja) ou Humani generis (sobre os erros).
Jesus Cristo quis que os frutos da sua salvação fossem dados aos fiéis, submetidos à autoridade hierárquica por Ele fundada. A Lumen Gentium, em consonância com a sua intenção ecumênica, inaugura uma Igreja com vários níveis, ou melhor, uma Igreja composta por círculos concêntricos, onde se possui uma quantidade maior ou menor de elementos de salvação, dependendo da comunidade religiosa a que se pertence.
Natureza profunda dos erros declarados
Erro sobre a unidade
É esquecer que a unidade da Igreja que se pretende alcançar não pode resultar de uma plenitude quantitativa dos elementos que a constituem. A Igreja é uma sociedade e, portanto, um todo moral cuja forma é uma ordem. E esta ordem implica um princípio. Ora, este princípio é sobrenatural e divinamente instituído. Princípio no sentido de uma causa final que permite alcançar o bem da profissão externa da verdadeira fé e do verdadeiro culto, e princípio no sentido de uma causa motriz, através do governo hierárquico do Papa, chefe supremo, e dos bispos, que são as cabeças subordinadas. Mas as comunidades cristãs dissidentes são precisamente privadas dessa ordem e, portanto, dessa finalidade e dessa moção da hierarquia, e são, portanto, radicalmente excluídas da unidade, mesmo que, materialmente, possam tomar emprestado e preservar elementos que pertencem inerentemente à Igreja Católica. Recusando a primazia do Bispo de Roma, eles estão sem vida, sem forma, sem orientação correta e esses elementos materiais não podem dar vida sobrenatural ou salvação por si mesmos, assim como um corpo sem alma é apenas um cadáver e não pode pretender garantir a vida de um homem e muito menos levá-lo à perfeição.
Erro sobre os meios de salvação e os elementos da verdade
Assim, os sacramentos, mesmo quando validamente celebrados, são considerados infrutíferos nas comunidades separadas[19] devido ao impedimento ou privação que constitui a ausência de vínculo com a ordem social desejada por Deus. Esse impedimento acarreta um pecado contra a fé para os hereges, um pecado contra a unidade e a caridade para os cismáticos.
O mesmo vale em relação às verdades da fé. Não se pode dizer que a preservação de verdades parciais pertencentes ao objeto da fé católica possa trazer frutos de salvação. O objeto da fé e a profissão de fé não são variáveis. Santo Tomás de Aquino, manifestando o ensinamento constante da Igreja Católica, esclarece admiravelmente esta verdade ao enfatizar a ausência do habitus da fé sobrenatural naqueles que negam até mesmo uma única verdade de fé ensinada pela Igreja [20]:
“Objeção 2: Na fé, há múltiplos artigos, assim como na ciência, por exemplo, na geometria, há múltiplas conclusões. Mas alguém pode ter conhecimento da geometria no que diz respeito a certas conclusões geométricas, ignorando outras. Portanto, alguém pode ter fé em relação a alguns artigos da fé, sem acreditar nos outros.
Conclusão: O herege que se recusa a crer em um único artigo de fé não retém o habitus da fé, nem da fé formada nem da fé informe. Isso se deve ao fato de que, em qualquer habitus, a espécie depende do que há de formal no objeto; se este for removido, o habitus não pode permanecer em sua espécie. Ora, o que há de formal no objeto da fé é a verdade primeira, tal como é revelada nas Sagradas Escrituras e no ensinamento da Igreja, que procede da Verdade primeira. Consequentemente, aquele que não adere, como a uma regra infalível e divina, ao ensinamento da Igreja que procede da Verdade primeira revelada nas Sagradas Escrituras, esse não tem o habitus da fé. Se ele admite verdades da fé, é de outra forma que não pela fé. Como se alguém mantivesse em sua mente uma conclusão sem conhecer o meio que serve para demonstrá-la, é claro que ele não tem o conhecimento, mas apenas uma opinião.
Por outro lado, é claro também que aquele que adere ao ensinamento da Igreja como uma regra infalível, dá seu consentimento a tudo o que a Igreja ensina. Caso contrário, se aceitar o que quer do que a Igreja ensina e não aceitar o que não quer aceitar, a partir desse momento não adere mais ao ensinamento da Igreja como regra infalível, mas à sua própria vontade. Assim, é evidente que o herege que se recusa obstinadamente a acreditar em um único artigo não está disposto a seguir em tudo o ensinamento da Igreja; pois se ele não tivesse essa obstinação, já não seria herege, mas apenas estaria em erro.
Disso fica claro que aquele que é um herege obstinado em relação a um único artigo não tem fé em relação aos outros artigos, mas uma certa opinião que depende de sua própria vontade.
Resposta à objeção n.º 2.
Nas várias conclusões de uma mesma ciência, existem vários meios para estabelecer provas, e uma pode ser conhecida sem a outra. Portanto, pode-se conhecer algumas conclusões de uma ciência ignorando outras. Mas a fé adere a todos os artigos da fé em razão de um meio único, isto é, pela Verdade primeira, tal como nos é proposta nas Escrituras, bem compreendidas segundo o ensinamento da Igreja. É por isso que aquele que se afasta desse meio fica totalmente privado da fé.
Esta doutrina é claramente exposta por Leão XIII na Satis Cognitive, e também por Pio XI na sua encíclica Mortalium Animos, quando condena aqueles que falam de uma distinção entre dogmas fundamentais e secundários:
Além disso, com relação às coisas que devem ser cridas, não é lícito utilizar-se, de modo algum, daquela discriminação que houveram por bem introduzir entre o que denominam capítulos fundamentais e capítulos não fundamentais da fé, como se uns devessem ser recebidos por todos, e, com relação aos outros, pudesse ser permitido o assentimento livre dos fiéis: a Virtude sobrenatural da fé possui como causa formal a autoridade de Deus revelante e não pode sofrer nenhuma distinção como esta.
Por isto, todos os que são verdadeiramente de Cristo consagram, por exemplo, ao mistério da Augusta Trindade a mesma fé que possuem em relação dogma da Mãe de Deus concebida sem a mancha original e não possuem igualmente uma fé diferente com relação à Encarnação do Senhor e ao magistério infalível do Pontífice romano, no sentido definido pelo Concílio Ecumênico Vaticano.
Nem se pode admitir que as verdades que a Igreja, através de solenes decretos, sancionou e definiu em outras épocas, pelo menos as proximamente superiores, não sejam, por este motivo, igualmente certas e nem devam ser igualmente acreditadas: acaso não foram todas elas reveladas por Deus?
Pio XI, Mortalium animos, 6 de janeiro de 1928.
Nem verdades parciais nem sacramentos preservados podem assegurar o vínculo com a mediação social da Igreja, que permite a obtenção da salvação, simplesmente porque não se encontram na ordem social e hierárquica da unidade da fé e do culto sob a autoridade do governo divinamente instituído. Os ramos cortados da videira não são, de forma alguma, fonte de vida para as folhas que lhes estão ligadas.
Por fim, que a salvação possa ser alcançada fora dos limites visíveis da Igreja Católica, esta sempre afirmou, mas isso pode ocorrer de forma estritamente individual quando Deus concede a sua graça a um indivíduo cuja pertença a uma seita ou religião falsa o impede de aceder facilmente ao conhecimento da verdadeira fé.
Em sua encíclica Mystici Corporis, Pio XII menciona o desejo que pode animar aqueles que não pertencem à Igreja Católica. Após convidá-los explicitamente a “ceder livre e voluntariamente aos impulsos interiores da graça divina e a se esforçar para sair de um estado em que ninguém pode ter certeza da salvação eterna”, o Papa admite a possibilidade de um certo desejo de pertencer à Igreja que ordena os não católicos ao Corpo Místico, mas que é insuficiente para lhes permitir beneficiar-se de todos os bens sobrenaturais que só a Igreja Católica pode conceder: “Pois, mesmo que por certo desejo e vontade inconscientes se encontrem ordenados ao Corpo Místico do Redentor, são privados de tantos e tão grandes auxílios e favores celestiais, que só se pode gozar na católica. [21]” Ora, encontramos uma expressão mais precisa do pensamento do Papa sobre este tema na carta da Sagrada Congregação do Santo Ofício, datada de 8 de agosto de 1949, dirigida ao Arcebispo de Boston, onde ele detalha a interpretação do dogma “Fora da Igreja não há salvação” e precisa o significado do desejo de pertença que pode animar os homens que ainda não pertencem à Igreja.
Contudo, não se deve crer que qualquer tipo de desejo de adentrar na Igreja seja suficiente para a salvação. O desejo pelo qual alguém se une à Igreja deve ser animado pela caridade perfeita. Nem um desejo implícito pode produzir seu efeito se não se possuir fé sobrenatural.
Carta da Sagrada Congregação do Santo Ofício, datada de 8 de agosto de 1949, dirigida ao Arcebispo de Boston, em A Igreja, volume II, coletânea “Ensinamentos Pontifícios” dos monges de Solesmes, Desclée, n.º 1261. Veja também Pio XII, Heinrich DENZINGER, Símbolos e Definições da Fé Católica, Cerf, Paris, 2001, n.º 3821.
E não é através da mediação de comunidades cristãs não católicas que essa ordenação por desejo sobrenatural implícito à Igreja se realiza. No entanto, é o que afirmam os textos do Vaticano II (Lumen gentium §8; Unitatis redintegratio §3) e os comentários oficiais que os explicam, como a declaração Dominus Jesus ou as respostas da Congregação para a Doutrina da Fé de junho de 2007.
Pode-se, portanto, concluir, evidenciando o paradoxo decorrente de todos os erros contidos na novidade da teoria do “subsistit in”, que, por ter considerado constituir uma unidade fora do primado romano, a teoria não pode evitar a armadilha do latitudinarismo condenado pelos Papas, o que a condena a um fracasso radical na realização dessa unidade.
Assim, Pio IX no Syllabus condena as seguintes proposições:
Ҥ III. Indiferentismo, Latitudinarismo.
- XV. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira.
- XVI. No culto de qualquer religião podem os homens achar o caminho da salvação eterna e alcançar a mesma eterna salvação.
- XVII. Pela menos deve-se esperar bem da salvação eterna daqueles todos que não vivem na verdadeira Igreja de Cristo.
- XVIII. O protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã, na qual se pode agradar a Deus do mesmo modo que na Igreja Católica.
Mas também Pio XI, na sua encíclica Mortalium animos, que condena o ecumenismo moderno (1928):
Como, então, podemos conceber a legitimidade de uma espécie de pacto cristão, cujos adeptos, mesmo em questões de fé, manteriam cada um a sua maneira particular de pensar e julgar, mesmo quando esta estivesse em contradição com a dos outros? E por qual fórmula, perguntamos, poderiam eles constituir uma única e mesma sociedade de fiéis, homens que divergem em opiniões contraditórias? (…)
Na verdade, não sabemos como, através de tão grande divergência de opiniões, se poderia abrir o caminho para a unidade da Igreja, quando essa unidade só pode surgir de um único magistério, de uma única regra de fé e de uma crença comum dos cristãos. Por outro lado, sabemos muito bem que, com isso, facilmente se dá um passo em direção à negligência da religião ou ao indiferentismo e ao que se chama modernismo, cujas infelizes vítimas sustentam que a verdade dos dogmas não é absoluta, mas relativa, isto é, adapta-se às necessidades mutáveis dos tempos e dos lugares e às diversas tendências das mentes, visto que não está contida numa revelação imutável, mas é de natureza a acomodar-se à vida dos homens.
Como se vê, a busca da unidade sobre bases falsas alimenta o novo ecumenismo e o condena ao fracasso. Mas a distinção introduzida pela expressão “subsistit in” vai além. Ela abre caminho para o reconhecimento de um direito à liberdade religiosa que será expresso na declaração Dignitatis humanæ.
Fonte: Vu de Haut n.º 20, “Vaticano II, os pontos de ruptura: atas da conferência de 10 e 11 de novembro de 2012”. Vu de haut é o periódico do Instituto Universitário São Pio X.
NB: O conjunto deste estudo deve muito ao trabalho do Pe. Jean-Michel Gleize, professor de eclesiologia no Seminário de Écône e membro das discussões doutrinárias que ocorreram entre a Santa Sé e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X.
Especialmente:
- Pe. Jean-Michel Gleize, Vaticano II em debate, Courrier de Rome, 2012.
- Pe. Jean-Michel Gleize, A nova eclesiologia na base do ecumenismo, Courrier de Rome, n°339 (529), dezembro de 2010.
- Cardeal Kasper, Palestra proferida por ocasião do 40º aniversário da promulgação do decreto conciliar Unitatis redintegratio, 11 de novembro de 2004.
[29] Encontramos esta ideia expressa ainda mais na Lumen Gentium § 9, no capítulo 2 sobre a Igreja, Povo de Deus: “Também este povo messiânico, embora não abranja de fato todos os homens, e mais de uma vez apareça como um pequeno rebanho, é, contudo, para todo o género humano uma semente muito poderosa de unidade, de esperança e de salvação”.
[30] Cf. o discurso do Papa João Paulo II aos Cardeais e à Cúria Romana de 22 de dezembro de 1986.
[31] “Resposta da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé” de 29 de junho de 2007, em Documentação Católica n.º 2385 (5-19 de agosto de 2007), p. 719.
[32] Pe. Jean-Michel Gleize, Vaticano II em debate, Courrier de Rome, 2012, p. 119.
Notas
- Instrução “De Motione Oecumenica” da Sagrada Congregação do Sagrado Ofício sobre o “Movimento Ecumênico” (20.12.1949).
- Os recentes encontros inter-religiosos em Astana, Cazaquistão, em julho de 2009 e setembro de 2013, que tiveram lugar no Congresso Mundial das Religiões na cidade e do qual participou o Cardeal Tauran, os organizados em Assis em quatro ocasiões, de 1986 a 2011, ou em outras cidades do mundo são alguns exemplos.
- Cardeal Joseph Ratzinger, “Conferência no Congresso de 25-27 de fevereiro de 2000 sobre a eclesiologia da Constituição conciliar Lumen Gentium”, em Documentation Catholique n.º 2223 de 2 de abril de 2000, p. 310.
- Cardeal Kasper, conferência por ocasião do 40º aniversário da promulgação do decreto conciliar Unitatis redintegratio (Rocca di Papa, 11-13 de novembro de 2004).
- “O evento de Assis pode, portanto, ser considerado uma ilustração visível, uma lição objetiva, uma catequese inteligível para todos daquilo que é pressuposto e significado pelo compromisso ecumênico e pelo diálogo inter-religioso recomendado e promovido pelo Concílio Vaticano II.” João Paulo II, Discurso aos Cardeais e à Cúria Romana, 22 de dezembro de 1986, §7.
- “Notificação da Congregação para a Doutrina da Fé de 11 de março de 1985, a respeito do livro Igreja: Carisma e Poder do Padre Leonardo Boff” na Documentation Catholique n.º 1895 de 5 de maio de 1985, pp. 484–486; “Conferência no Congresso de 25 a 27 de fevereiro de 2000, sobre a eclesiologia da constituição conciliar Lumen gentium”, na Documentation Catholique n.º 2223 de 2 de abril de 2000, p. 310; Declaração Dominus Jesus, sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja, 6 de agosto de 2000. A esses textos pode-se acrescentar, sob o pontificado de Bento XVI, a “Resposta da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, de 11 de julho de 2007″, na Documentation Catholique , n° 2385, 5-19 de agosto de 2007, p. 717.
- Pastor Wilhelm Schmidt, carta escrita em alemão em 3 de agosto de 2000, dirigida ao Padre Matthias Gaudron, citada em extrato do número 49 da revista Le Sel de la terre, verão de 2004, p. 40.
- D. Gérard Philips, A Igreja e seu Mistério no Concílio Vaticano II, Desclée, 1967.
- Cf. Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração Mysterium Ecclesiæ, n. 1, in AAS 65 (1973) 396–408.
- Cf. Concílio Ecumênico Vaticano II, decreto Unitatis redintegratio, nos. 14 e 15; Congregação para a Doutrina da Fé, carta Communionis notio, n. 17, em AAS 85 ( 1993) 838–850.
- Cf. Concílio Ecumênico Vaticano I, Constituição dogmática Pastor aeternus, em Heinrich Denzinger, Símbolos e definições da fé católica, Cerf, Paris, 2001, n. 3053–3064; Concílio Ecumênico Vaticano II, Constituição dogmática Lumen gentium, n. 22.
- Cf. Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração Mysterium Ecclesiae, n. 1.1, em AAS 65 [1973] 397; Declaração Dominus Iesus , n. 16.3 em AAS 92 [2000-II] 757–758; Sobre o livro ‘Igreja: carisma e poder’ do Pe. Leonardo Boff, em AAS 77 [1985] 758–759.
- Cf. João Paulo II, Encíclica Ut unum sint, n. 11.3, in AAS 87 [1995-II] 928.
- Cf. Concílio Ecumênico Vaticano II, Constituição dogmática Lumen Gentium, n. 8.2.
- Concílio Ecumênico Vaticano II, Constituição dogmática Lumen Gentium, n. 8.2.
- Concílio Ecuménico Vaticano II, Decreto Unitatis redintegratio, n. 3.4.
- Pe. Jean-Michel Gleize, Vaticano II em debate, Courrier de Rome, 2012, p. 145.
- Segundo o Pe. Gleize, ibid.
- Ela acredita firmemente, professa e prega que “ninguém que esteja fora da Igreja Católica, não apenas pagãos, mas também judeus, hereges e cismáticos, pode se tornar participante da vida eterna, mas irá “para o fogo eterno, preparado pelo diabo e seus anjos” (Mt 25,41), a menos que antes do fim de sua vida tenha sido unido a ela; ela também professa que a unidade do corpo da Igreja tem tal poder que os sacramentos da Igreja não são de nenhuma utilidade para a salvação, exceto para aqueles que permanecem nela, pois somente para eles o jejum, a esmola e todos os outros deveres de piedade e exercícios da milícia cristã trazem recompensas eternas, e que “ninguém pode ser salvo, por maior que seja sua esmola, mesmo que derrame seu sangue pelo nome de Cristo, a menos que tenha permanecido no seio e na unidade da Igreja Católica”. Bula sobre a união com os coptas e os etíopes, Cantate Domino, 4 de fevereiro de 1442 (1441 segundo o cálculo florentino) Decreto para os jacobitas. DS 1351. Veja também a Resposta do Santo Ofício a vários Ordinários locais, 17 de maio de 1916 sobre os últimos ritos para cismáticos, DS 3635 e 3636.
- Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, IIa IIae, q.5, art. 3, Os hereges que estão em erro sobre um artigo de fé têm fé nos outros artigos?
- Pio XII, Mystici Corporis, 29 de junho de 1943, in A Igreja, tomo II, coleção “Ensinamentos pontifícios” dos monges de Solesmes, Desclée, n°1104.